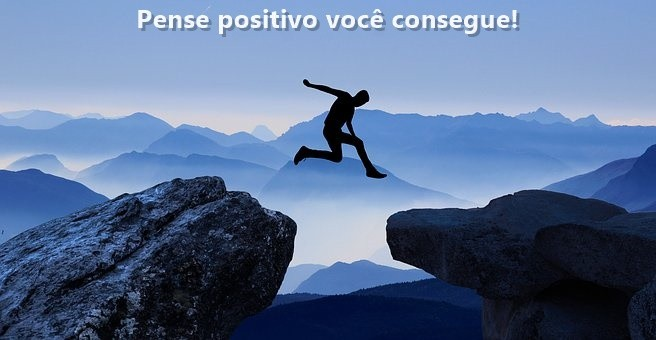Um massacre chocou o Brasil 30 anos atrás. Na noite de 23 de
julho de 1993, nos arredores da Igreja da Candelária, no centro do Rio de
Janeiro, oito jovens de 11 a 19 anos foram brutalmente assassinados – seis
deles eram menores de idade. Eles faziam parte de um grupo, na maioria
adolescentes, de pessoas que, sem teto, dormiam nas proximidades da igreja.
Mais tarde, investigações comprovaram que os disparos foram feitos por
milicianos.
Três décadas mais tarde, homicídios do tipo se tornaram
incomuns na imprensa. "A gente quase não ouve mais falar de chacina de
menores como foi nos anos 1990 e início dos anos 2000, mas menores continuam
morrendo cotidianamente nas comunidades ou nas ruas do Rio de Janeiro",
pontua a jornalista Danielle Brasiliense, professora na Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ) e na Universidade Federal Fluminense (UFF), onde coordena
o Observatório de Mídia e Violência.
Doutora em comunicação e cultura pela Université Saint
Quentin de Ivelines, em Versalhes, na França, ela é autora do livro A chacina
da Candelária e as memórias narrativas de O Globo e, mais recentemente, de A
mídia, o perverso e o gosto da violência – em que há um texto sobre as recentes
chacinas em escolas.
Brasiliense começou a estudar o tema em 2005, em sua
pesquisa de mestrado. A jornalista conta que buscou compreender a memória
narrativa a respeito desses menores assassinados, tratados como "lixo
social" por parte da sociedade e que, segundo ela, não passaram a ser
vistos como vítimas de uma brutalidade após o massacre.
Como surgiu o interesse em estudar o tema?
Danielle Brasiliense: A pesquisa [de mestrado, realizado
entre 2005 e 2006] tomou corpo quando estudei, ainda na graduação, para a
monografia, as coberturas dos jornais sobre o sequestro do ônibus 174 [ocorrido
no Rio, em junho de 2000], que foi protagonizado por um sobrevivente da chacina
da Candelária [o jovem Sandro do Nascimento]. A partir da observação a respeito
das abordagens dos jornais sobre o jovem Sandro, classificado como "um
monstro, sanguinário e frio", como destacou O Globo na época, tive a ideia
de pensar a memória daqueles menores da Candelária. O interesse era compreender
como se construiu a imagem deles entre 1992, quando eles apareciam na imprensa
como "meninos de rua", passando pelo momento da chacina e depois
pelos anos que se seguiram. O objetivo era compreender a memória narrativa a
respeito desses menores, que roubavam os comércios do centro do Rio e que,
portanto, eram tratados como lixo social e, na mentalidade de muitos, deveriam
ser expurgados daquele lugar, pois atrapalhavam a ordem não só do direito à
segurança das pessoas que passavam por ali, mas a própria ideia de ordem social.
Você vê uma mudança de abordagem e postura da narrativa
da imprensa quando há uma cobertura sobre violências do tipo ou menores em
situações de rua?
Veja bem, a gente quase não ouve mais falar de chacina de
menores como foi nos anos 1990 e início dos anos 2000, mas menores continuam
morrendo cotidianamente nas comunidades ou nas ruas do Rio de Janeiro.
Inclusive por crimes cometidos por policiais ou ex-policiais, a milícia, como
chamamos hoje, e como foi o caso da chacina. Os anos 1990 protagonizaram um
momento muito específico na história da imprensa do Brasil, que nada mais foi
do que um papel do tipo "espreme que sai sangue". A violência urbana
e a espetacularização desta estavam em voga, o que levou os jornais a ganharem
muita grana na época com essas temáticas que suscitam a curiosidade e o
interesse popular. Assim como as reportagens sangrentas sobre a guerra às
drogas, que estampavam fuzis e gente morta nas capas dos jornais todos os dias.
Isso ainda existe, sim, de certa forma, mas acho que há hoje uma
conscientização maior sobre o que é umas crianças pobres e negras nas ruas da
cidade. Ainda são chamados de trombadinhas, ainda se grita por "pega,
ladrão", vemos crianças e adolescentes muitas vezes sendo espancados pela
polícia ou pela população, mas os jornais estão mais comportados. Houve muita
discussão sobre essa questão, muita luta liderada por ONGs e comunidades.
Então, acredito, no meu mundo de Alice [diz ela, rindo, aludindo à protagonista
de Alice no país das maravilhas, livro de Lewis Carroll], que também temos hoje
mais informação e pessoas informadas para compreender a complexidade da
realidade de um país tão desigual. Os jornais não tratam crianças e comunidades
como naquela época. Evoluímos? Prefiro acreditar que sim, mesmo vendo as vezes
forças contrárias a isso.
De que formas as narrativas apresentadas pela mídia em
1993 contribuíram para criar uma imagem do massacre no público em geral?
O que mostro no livro é que o acontecimento da chacina da
Candelária, no momento em que menores em situação de rua foram assassinados,
eles não passaram para um lugar de vítimas de uma brutalidade, mesmo sendo um
acontecimento brutal que chocou a população, com repercussão internacional.
Talvez, se não fossem as reivindicações de pessoas que ajudavam aqueles menores
e as ONGs que chamaram a atenção da imprensa com seus clamores de justiça, esse
acontecimento não seria conhecido, seria banalizado e normalizado, como
aconteceu e acontece na nossa história tantas vezes.
Os relatos não se preocuparam em criar uma empatia com as
vítimas, então?
A imprensa estava interessada também em vender aquela
chacina. Foi uma história apelativa para seu público: várias crianças mortas ao
mesmo tempo na calada da noite em frente a uma igreja… se isso não se parece
com um conto de Allan Poe [escritor americano conhecido por criar textos
macabros], um acontecimento mais que bizarro… O que mais seria? Sim, a nossa
dura e crua realidade… infelizmente, contada como um conto policial, no qual
nunca pobres, ladrões, ainda que menores de idade, devem ser tratados como
vítimas de alguma coisa.